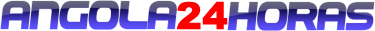No entanto, sob a superfície desse evento aparentemente próspero, esconde-se uma realidade mais complexa e controversa. Décadas de desconfiança, novas políticas punitivas dos EUA e a sombra da exploração histórica lançaram longas sombras sobre o otimismo cuidadosamente cultivado em torno da cimeira. Embora as promessas de investimento reluzam, os líderes africanos ofereceram uma rara e unificada rejeição a Washington indicando que essa “visão partilhada” permanece profundamente dividida.
Enquanto alguns enxergam o brilho e o glamour do evento, outros reconhecem as tensões e os desafios que continuam a moldar a relação entre os EUA e os países africanos. É essencial reconhecer essas complexidades e trabalhar em direção a uma parceria mais inclusiva e equitativa, que beneficie todas as partes envolvidas.
Esta cimeira a 17ª edição organizada pelo Corporate Council on Africa (CCA) não foi apenas mais um fórum empresarial. Realizada em Angola, país que simboliza tanto a história colonial quanto o recente envolvimento dos EUA, especialmente após a visita histórica do presidente Biden em 2024, o evento buscou aproveitar o ímpeto gerado pela administração democrata. O governo norte-americano prometeu 65 mil milhões de dólares para a África, apoiou a adesão da União Africana ao G20 e deu prioridade a projetos como o Corredor do Lobito — uma iniciativa transformadora de infraestrutura que conecta Angola à República Democrática do Congo e à Zâmbia.
A visita de Biden a Angola, focada no comércio e na reconciliação, com passagem simbólica pelo Museu Nacional da Escravatura, representou um possível ponto de viragem. No entanto, poucos meses após o regresso de Donald Trump à Casa Branca, esses avanços começaram a se dissipar. Programas de ajuda enfrentaram cortes drásticos, iniciativas cruciais de combate ao HIV foram reduzidas e novas restrições severas de vistos foram impostas a cidadãos do Chade, Somália, Sudão e Guiné Equatorial. Havia rumores, inclusive, de que essas restrições poderiam ser estendidas a outros países, como Angola. Simultaneamente, a administração Trump anunciou planos para novas tarifas sobre exportações africanas, algumas superiores a 40%, explorando o vencimento iminente da Lei Africana de Crescimento e Oportunidades (AGOA), agora encarada como ameaça e não como oportunidade de renovação.
Nesse contexto tenso, a Cimeira de Luanda transformou-se num inesperado campo de confronto político e diplomático. O presidente angolano, João Lourenço, anfitrião do evento, adotou um tom firme desde o início: “Chegou o momento de substituir a mentalidade da ajuda por uma mentalidade de investimento e comércio.” Essa visão foi amplamente ecoada pelo presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf, que condenou as novas proibições de visto e tarifas impostas pelos EUA como violações das regras do comércio internacional e um obstáculo à construção de uma parceria genuína. Ele insistiu que a África não busca assistência, mas sim soluções desenvolvidas em conjunto.
O Dr. Akinwumi Adesina, presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, reforçou esse apelo, exigindo a reversão das medidas protecionistas: “Precisamos rever essas tarifas elevadas. Deve haver mais comércio entre a África e os Estados Unidos, e não menos.” A mensagem era clara: a África recusaria relações unilaterais disfarçadas de cooperação.
A polêmica se aprofundou após a remoção de um artigo de opinião contendo essas críticas do portal ZAWYA menos de uma hora após sua publicação , o que alimentou suspeitas de pressão norte-americana para silenciar vozes dissonantes. O gesto apenas ampliou a indignação entre os líderes africanos.
Embora significativos, os acordos anunciados ofereceram pouco alívio frente a essas preocupações estruturais. O pacote de 2,5 mil milhões de dólares priorizou projetos como: silos de cereais da Amer-Con Corporation no Corredor do Lobito, um acordo digital de 170 milhões de dólares da Cybastion com a Angola Telecom, uma linha de transmissão de 1,5 mil milhões de dólares da Hydro-Link ligando barragens angolanas às minas da RDC, e ainda investimentos em energia, como a barragem hidroelétrica Ruzizi III. Embora apresentados como “parcerias”, tais projetos beneficiam majoritariamente empresas norte-americanas, assegurando seus interesses estratégicos, especialmente em recursos minerais e energia.
A retórica de “comércio em vez de ajuda” e de “igualdade entre parceiros” soou vazia diante da iminência de tarifas punitivas e do desmantelamento de programas essenciais. Troy Fitrell, chefe da delegação dos EUA, tentou amenizar a crise, negando que houvesse “proibições” de visto, classificando as medidas como padrões de segurança, e descrevendo as tarifas como táticas de negociação por um acordo “equilibrado e recíproco”. Sua alegação de que os EUA permanecem comprometidos com a renovação da AGOA destoou das ações e ameaças simultâneas da própria administração.
Essa dissonância evidencia um problema de confiança agravado pela retórica e histórico do presidente Trump. Fitrell usou chavões sobre benefícios mútuos, citando o Corredor do Lobito como exemplo de acordo duradouro. Mas declarações passadas de Trump, como quando sugeriu “retomar” o Canal do Panamá caso as tarifas panamenhas se tornassem desfavoráveis, fornecem precedentes preocupantes. Sua abordagem transacional das relações internacionais, combinada com políticas tarifárias e restrições de visto agressivas já aplicadas à África, levantam dúvidas legítimas: o que impede a administração Trump de usar táticas semelhantes contra Angola ou a RDC em futuras disputas comerciais?
A história da intervenção americana, sob o pretexto de proteger seus interesses, ainda está viva na memória de muitos líderes africanos que reconhecem no presente um eco do passado colonial. Em última análise, a Cimeira de Luanda destacou uma desconexão profunda. Para os EUA especialmente sob a administração Trump, a cimeira pareceu ser mais uma plataforma para assegurar recursos estratégicos e vantagens comerciais, do que para promover prosperidade compartilhada. Embora relevante, o investimento de 2,5 mil milhões de dólares carrega riscos reais de beneficiar principalmente empresas americanas e elites angolanas, com pouco impacto concreto na melhoria de vida da população.
Cortes abruptos em programas de saúde e agricultura revelam uma preocupante desconexão entre os discursos e as necessidades reais dos africanos. A África, por outro lado, lançou uma mensagem firme: exige uma parceria genuína, não um paternalismo reciclado. Recusa-se a ser vista como mero beneficiário de ajuda enquanto enfrenta restrições e sanções econômicas. O continente possui vastos recursos naturais e uma juventude dinâmica, com potencial para moldar a economia global.
Como afirmou o Greenpeace África, é hora de quebrar o “ciclo tóxico da extração e da pobreza” e rejeitar o modelo neocolonial que transforma os recursos africanos em riqueza externa, enquanto seu povo arca com os custos das mudanças climáticas e da instabilidade econômica. O passado colonial não será apagado por discursos em cimeiras ou acordos milionários. Uma verdadeira parceria exige o desmantelamento das estruturas de exploração não sua reembalagem com a retórica do “benefício mútuo”, ao mesmo tempo em que se utilizam tarifas e vistos como armas políticas.
Enquanto os EUA não enfrentarem esse conflito fundamental, os “benefícios de Luanda” continuarão a ser amargos para muitos africanos e o caminho para uma prosperidade partilhada seguirá bloqueado pelos mesmos desequilíbrios de poder que a cimeira pretendia resolver.