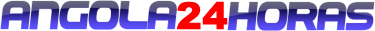Por Ramiro Aleixo
Como referi em a “Saga do Chefe (2)”, início este meu estado vegetativo (a primeira de duas partes) com o alerta de Amílcar Cabral que, estivesse vivo, teria completado o seu centenário no mês setembrino passado. E, às portas de Novembro, o da independência, olhei atentamente para a fotografia acima, da tomada de posse do Chefe que substitui o Chefe, despachado em (ou por) Moscovo, que também era de Setembro. Aquele Chefe que pensaram que “era imorrível”, (1)mas faleceu mesmo, como todos nós faleceremos.
Estão na fotografia todos os pesos pesados daquela era do partido que é o dono de Angola. Todos, disse, menos esse Chefe, porque naquela altura ainda era menor de idade e de patente. E, provavelmente, até fazia parte do “arrastou o pé comandoooouuuu” (2). Tempos em que havia tantos primeiros tenentes e majores das FAPLA, que era só dar um pontapé numa pedra que saiam 10.
Mas, fixei a minha atenção numa figura, que fosse vivo, também completaria no dia 28 de Setembro, um século de idade. Trata-se do único branco/preto (a expressão é dele, não vão os complexados, julgar-me um racista) de um grupo de cerca de 30 dos mais altos dirigentes do MPLA na altura, membros do BP e do CC, perfilados atrás e nas laterais do novo Chefe, ‘então miúdo’. O personagem a que me refiro está na primeira fila, entre Maria Mambo Café (que o Gustavo Costa apelidou de Confusão Chá) e de Lourenço ‘Diandengue’. E entre os ainda vivos, Julião Mateus Paulo ‘Dino Matrosse’, transformado em saco de pancada dos metralhas que servem o Chefe. Tudo devido ao poder. Esse poder que cega, como cegou o Chefe. Entrou e já não quer mais largar a cadeira. Aliás, foi ele quem mandou fazer à sua medida. Mas são outros tempos, de abastança, mas também de muita mediocridade, de canalhice, de incivilidade e de falta de berço que tomou de assalto os corredores da Alta Cidade. Exemplo que ilustra o adágio: “Diz-me com quem andas, que te direi quem és” …
O branco/preto é António Jacinto do Amaral Martins, um poeta castiço de grande elevação, que foi membro do CC do MPLA, ministro da Cultura, de verdade, e fundador da União dos Escritores Angolanos. Para nós, por essa altura ainda novatos nestas lides jornalísticas, era o “kota Fumaça”. Incomparável, o único entre os da “camarilha que acompanhava” (3) o Chefe despachado em (ou por) Moscovo, autorizado a perfumar o ambiente das salas de reuniões revolucionárias que as vezes se prolongavam noite dentro, com o aroma da fumaça do seu velho, gasto e inseparável cachimbo. Volta e meia acendia-o, dava uma prolongada baforada, e volta e meia se apagava. O ritual dos cachimbeiros.
Natural de Luanda, cabelo lambido e com uma barbicha no queixo, o kota Fumaça era um branco/preto descomplexado, que tinha um estilo muito especial e como melhor amigo, o seu motorista. Baixinho, com uma barriguinha com tendência aumentativa, sempre de camisa de meia manga em cujo bolso atulhava com a bolsa onde levava o tabaco do cachimbo, marcava a diferença entre os pretos, que trajavam quase sempre as famosas balalaicas, goiabeiras cubanas e calças à boca-de-sino. Falava com sabedoria e com propriedade.
António Jacinto esteve preso por actividades políticas anticoloniais, de 1952 a 1972, e a maioria desse período, no Campo de Concentração de Tarrafal, em Cabo-Verde. Provavelmente, os metralhas que travestiram o partido da situação, não sabem quem foi esse personagem histórico, lírico, autor do poema Monangamba. A metralhada e seus chefes e chefitos, está mais envolvida em acções de assassinato do pensamento diferente. Eles ‘matam’ tudo e todos, mesmo os seus activos, porque o que importa mesmo, é a defesa do Chefe. Tudo o resto não conta. E o Chefe finge que não vê, que não sabe, que não ouve. Fechou-se numa mala de cânfora. Quer, provavelmente, passar à história como o primeiro herói nascido na Canata, musseque do Lobito, rivalizando com aquele outro Chefe, o único, nascido em Kaxicane (Catete/Icolo e Bengo). Aliás, nenhuma outra região do país foi merecedora de produzir heróis. Apenas e só, a terra dos ‘monabatas’, que, de novo, aparece na primeira fila a aguardar pela indicação do delfim do Chefe. Será? Aguardemos. Mas, a ser o preferido, que não seja sequer parecido com aquele Chefe que degolou a Nação; que deixou para o seu substituto, um legado pesado de milhares de mortos, com muitos outros ainda na fila de espera para o abate, mas ainda assim, o bem amado e guia espiritual do Chefe (intriga-me essa sua forte ligação e proteccionismo aos que mais dirigiram matanças). O substituto desse Chefe, continuado ou descontinuado, logo perceberá que o dossiê da gestão dos tais novos hospitais, constituirá um dos cânceres mais graves que terá que extirpar. Por efeito da degradação progressiva das grandes unidades, por falta de recursos financeiros e humanos que não foram considerados pela epidemia da megalomania do Chefe.
Mas, regressando ao poema Monangamba, musicado com emoção revolucionária por Rui Mingas (também já falecido), António Jacinto transporta-nos para o período de dominação colonial, e para algumas das milhentas razões que levaram à prisão centenas de nacionalistas nas cadeias da máquina repressiva do Estado salazarista, ao 4 de Fevereiro e para a luta política e armada declarada de libertação nacional. E também, para o tortuoso percurso do pós-independência, de guerra, de destruição, de matança, pós-Chefe do Chefe, e agora agravado com a gestão do Chefe aí.
Escreveu o kota Fumaça em Monangamba, que “Naquela roça que não tem chuva / é o suor do meu rosto / que rega as plantações / naquela roça grande tem café maduro / e aquele vermelho-cereja / são gotas do meu sangue feitas seiva…”. O café, prossegue o poeta, “vai ser torrado / pisado / torturado / vai ficar negro / negro da cor do contratado”! Abro aqui um parêntesis, para pedir aos chefes e chefitos e outros lobos da alcateia que cerca o Chefe, para explicarem aos integrantes dos gangues que comandam, o significado do “contrato”, quem eram os “contratados” e o que eram as produtivas “roças”, umas destruídas e outras recuperadas e transformadas em fazendas de luxo. Pode ajudar na tomada de decisões em favor dos pobres.
E viajando por todo esse passado (que ainda é presente), o poeta António Jacinto kota Fumaça pedia que se perguntasse “às aves que cantam, aos regatos de alegre serpentear / e ao vento forte do sertão / quem se levanta cedo?” — E prosseguia: “Quem vai à tonga? / Quem traz pela estrada longa / a tipóia ou o cacho de dendém? / Quem capina e em paga recebe desdém / fuba podre / peixe podre / panos ruis, cinquenta angolares / porrada se refilares? / Quem”?
António Jacinto continua com os seus questionamentos: “Quem dá dinheiro para o patrão comprar / máquinas / carros / senhoras / e cabeças de pretos para os motores? / Quem faz o branco prosperar / ter barriga grande — ter dinheiro? / Quem”?
Na estrofe final, o kota Fumaça remete-nos para “as aves que cantam / os regatos de alegre serpentear e o vento forte do sertão” que, sem qualquer vacilo, respondem: — “Monangambééé…”
Mas quem era o Monangambééé? Era o indígena, o escravo preto (ou negro) que enchia os bolsos dos patrões. Mas, decorridos quase 50 anos de independência, uma gesta sem dúvida importante para lá da forma como decorreu, o monangambééé continua aí, como escravo, como indígena, levando-nos não mais a perguntar “as aves que cantam / os regatos de alegre serpentear e o vento forte do sertão”, mas ao Chefe, se “foi para rebentarem com o país e para eliminar o próprio povo, que implementaram o projecto de tomada do poder”?
A pergunta deve ser dirigida ao Chefe, sim, embora as culpas tenham muitos autores e subscritores. Mas sendo filho de pais pobres, como a maioria de todos nós, e tendo vivido parte da sua vida em áreas rurais onde sentiu a pobreza e a discriminação, não se deveria sentir obrigado a conhecer melhor essa realidade do indígena, do monangambééé? E assumir, inteiramente, como, aliás jurou, a empreitada de mudar, de facto, e melhorar a condição de vida do seu povo, em vez de privilegiar a luxúria e o esbanjamento de recursos públicos? Por que razão desejou e lutou obsessivamente para tornar-se Chefe? Foi só para satisfação do seu ego mimado, arrogante, de banga e de vingança contra o seu Chefe? O que mudou afinal na vida dos “pretos (ou dos negros) indígenas, contratados e dos monangambééés” poetizados por António Jacinto, e prenominados na mensagem de Amílcar Cabral com que abri este texto, que reflecte o compromisso que faltou aos ‘libertadores’ para com os seus respectivos povos?
Um balanço dessa natureza, por questão de integridade, de rigor, em abono da verdade, da transparência e do comprometimento patriótico, deve ser um exercício encomendado à Academia e não da auto criação do dono da bola, embora não esteja impedido de elaborar o seu. Mas, fazer o de Angola e de todos nós, será o mais do mesmo, e as culpas do que está mal, para não variar, já têm destino: a oposição!
Mas, embora o Chefe e a “camarilha que o acompanha” disfarce, sabem que o sentimento que se apossou da maioria dos jovens de ontem — que acreditaram, que contribuíram para uma causa que pensavam ser libertadora e de mudança, que foram responsáveis pela recepção e para que o MPLA se tornasse na força que se implantou e tomou o poder —, é de profunda revolta, de tristeza, de desilusão, de arrependimento, mas também de desprezo por essa elite. Sentem que foram enganados, utilizados e descartados. Principalmente os que prenderam, torturaram e mataram milhares de outros jovens, para acomodação da “camarilha” que tem beneficiado do acesso à riqueza nacional, que garante o conforto exibido de forma despudorada, predadora, cá dentro e lá fora, enquanto eles sobrevivem com uma mísera pensão de antigos combatentes. E sentem medo de mandar essa raiva e revolta para fora. O mesmo medo da PIDE sentido pelos nossos progenitores, por nós da DISA que criaram e matou mais angolanos já encarcerados, que o colono nos campos de concentração. E decorridos quase 50 anos, continuamos a sentir medo até da Polícia ‘Republicana’, e mais grave, dos juízes e dos tribunais que julgam e condenam o povo em nome do povo. Temos medo do presente e do futuro para os nossos descendentes, porque continuamos a sentir que ainda se cultua a imposição do medo e da obediência a estatutos e códigos de conduta iguais aos trazidos da mata, fabricados por uma nova geração de juristas, comprometidos com o poder e sem sentido de pátria. Temos medo, porque os jovens que saem das universidades são transformados em batuqueiros que fazem a defesa do Chefe, em vez de servirem a ciência, o desenvolvimento e a harmonia nacional. Continuam a ser formatados para servir a cultura da idolatria, da devoção a um Chefe que, tal como o primeiro e o segundo, é tão humano quanto todos nós. Não é nenhum Deus, não tem de ser venerado. É eleito para trabalhar para o bem-comum e não para que trabalhemos para satisfação das suas ambições, utilizando como suporte o Estado. O que aconteceu é que o Chefe iludiu-nos e deu o golpe. Sequestrou o Estado. KESONGO