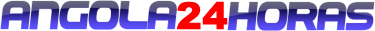Músico e compositor de mão-cheia, Carlos Lamartine é um dos expoentes da música revolucionária no país. Nasceu em Benguela, mas é em Luanda, sobretudo no seu Marçal, que cimentou a sua veia cultural. Tem uma obra vastíssima, que o próprio ainda considera actual, tendo em conta os acontecimentos que se vivem no país. Mas critica o estado da Cultura, a falta de investimentos no sector e assegura, sem pestanejar, que a experiência que viveu no Brasil, enquanto adido de Cultura, só valeu pelo facto de ter conhecido uma outra realidade cultural. Da parte de quem o enviou não havia sequer qualquer orientação sobre a missão que fez dele o representante cultural do Estado angolano
Nasceu em Benguela, mas é conhecido, sobretudo, como sendo um homem do Marçal. Hoje sente-se mais um benguelense de gema ou um caluanda do Marçal?
Eu, Carlos Lamartine, sou um cidadão angolano. Todas as províncias do país fazem parte do meu registo ambiental. Agora, nasci em Benguela, no Bairro Benfica, em 1943, e já lá vão muitos anos. Vim para Luanda em 1953. Quer dizer que só vivi 10 anos integralmente em Benguela. De 1953 a esta parte, embora tenha algumas saídas esporádicas, vivi mais em Luanda. Aqui percorri do ponto de vista da minha vivência vários bairros, mas aquele onde me fixei durante mais tempo de convivência ambiental, social, cultural é o Marçal. Mas vivi no Bairro Indígena, outro bairro cultural, estive algum tempo no Bairro Operário, no Sambizanga, Rangel e no Bairro Popular nos últimos tempos, antes da guerra de libertação. Naturalmente que me fixei o tempo todo no Marçal. É o bairro da minha convivência, tertúlias, férias, ilusões, certezas e emoções da minha vida.
A vida artística começa também no Marçal?
Não. A minha vida artística começa no Liceu Salvador Correia em 1956. Quando vou ao liceu, integro um conjunto do Sousa Júnior, que se chamava ‘Sousa Júnior e o seu conjunto’, onde exercitei a tocar tambores. Depois fixei-me no Marçal influenciado pelas culturas do Bairro Indígena. No Marçal iniciei de facto a minha carreira artística como cantor, tocador de tambor, organizador de grupos, porque fui eu quem fundou a primeira turma do Marçal, que integrava o Barcelo de Carvalho ‘Bonga’.
Refere-se aos Kissueias?
Sim. E a partir daí nunca mais parei, mesmo contra a vontade dos meus pais. A música falou mais alto.
O que os pais pretendiam?
O pai queria que fosse um doutor como o Dr. Agostinho Neto, porque era a referência que ele tinha. O meu pai era um funcionário público dos Correios, Telégrafos e Telefones. Para além de funcionário público, ele era um estudioso, jornalista, também dançou a rebita. Foi um dos fundadores da Liga Nacional Africana, entre outras coisas que ele foi fazendo do ponto de vista da política, cultura e jornalismo, mas ele não queria que fosse um artista. Naquela altura, alguns consideravam os artistas elementos marginais sem certeza do futuro. Por isso, quando entrei no Liceu Salvador Correia, as suas aspirações de que me tornasse médico eram maiores.
Foi Carlos Lamartine quem arrasta, posteriormente, à música os teus irmãos Gregório Mulato e Vate Costa?
A génese é de família, porque o meu irmão mais velho, o Teófilo José da Costa, com o nome artístico ‘Cú de Palha’, já era desde os anos de 1932, do século passado, um dos proeminentes dinamizadores culturais dos carnavais. O meu irmão foi dançarino, como a raínha, do grupo ‘Fineza’ e vários grupos. Foi um dos fundadores da Cidrália, o maior grupo de carnaval daquele tempo. Sabe que a Cidrália era um grupo que tinha como rival apenas os ‘Invejados’, independentemente dos outros grupos. Havia grupos muito bons naquela altura, mas a Cidrália atingiu o apogeu e o seu nome preserva-se até aos dias de hoje. Todas as minhas irmãs mais velhas dançaram o carnaval, que era a manifestação cultural de maior proeminência naquele período. Não havia os espectáculos conjuntos, nem os artistas individuais. Mas quando chega a minha vez, o meu exemplo não só arrasta os meus irmãos, como também os meninos do bairro. É a partir dos Kissueias, depois vem os Mulojis do Ritmo, a seguir os Vagabundos do Ritmo, Makokos do Ritmo, em 1964, em 1965 funda-se os Kiezos, que é a mola impulsionadora do batuque mais moderno que Angola pode ter naquele tempo. A ascensão dos Kiezos na primazia da cultura naturalmente que influenciou o panorama artístico angolano.
Os filhos também optaram pela música?
Tenho uma filha que era bailarina. Casou-se e deixou. Tenho um filho que foi o primeiro classificado no período da dança hip-hop, kuduro e kizomba. Neste momento, é cantor mas está na África do Sul, onde é pastor. Não professa a cultura profissionalmente. Todos os meus filhos têm uma certa inclinação para a dança e o canto. Todos dançam bem, mas não participam em termos de grupos culturais.
Olha-se para o Lamartine como sendo um músico revolucionário. Aceita esta classificação?
Eu aceito, porque a prática é o critério da verdade.
Foi a política que o fez músico ou o inverso?
O músico é que contribuiu para que o movimento revolucionário de conquista para a independência pudesse atingir os píncaros para as suas vitórias. O músico militante do MPLA trabalhou no sentido de contribuir para que a música desse e fizesse o seu papel junto das massas populares, como se dizia na altura, e para a consciencialização e mobilização de todo o povo para a luta. O Carlos Lamartine tem provas dadas desde a sua discografia, que é enorme, com muitas músicas e todas elas, neste momento, são actuais, independentemente de o país ter ascendido à independência e feito progressos no sentido da sua construção e reconstrução nacional. Os problemas que cantávamos na fase colonial, no período pós-independência, são actuais.
Ainda há muita ‘nvunda ku musseke’?
Temos muitos problemas com o casamento dos jovens. Casam-se hoje, passados cinco dias divorciam-se. Se não se divorciam, lutam e batem-se. Há alguns processos nas instâncias policiais, judiciais e nos centros de aconselhamento e nas organizações que tratam destes assuntos, no sentido de minimizarem as dificuldades por que passam os jovens. Temos visto e escutado os programas de rádio e televisão e acompanhado a violência que grassa pelo país, do ponto de vista de desestruturação das famílias, das desinteligências entre a vizinhança, o mau comportamento dos marginais em relação à população. Temos muitos problemas. Eles são todos retratados nas minhas músicas, nas cantadas pelos meus irmãos Vate Costa e Gregório Mulato, dentre outros colegas que também fazem o mesmo trabalho de construção de uma mensagem que possa dar alento à nossa população e não só.
Hoje fala-se muito no resgate dos valores morais, uma espécie de ‘pala ku mu abessa ó muxima’. O que falta para termos, por exemplo, os corações mais limpos?
Eu acho que é uma questão de cultura. O país não tem estado bem do ponto de vista da acção cultural. Essa é a minha opinião, assumo-a e tenho manifestado várias vezes, não só das instâncias governativas, como também nas organizações associativas e todo o trabalho que a gente realiza. Do ponto de vista cultural estamos num período grave de despersonalização da nossa cultura ou da nossa identidade. Não sabemos se somos angolanos, internacionalistas ou etnicamente kimbundu, umbundu, tchokwe, kuanhama, etc.
Como é que se identifica?
Hoje, o que mais realça a acção cultural da nossa juventude são os elementos estranhos à nossa cultura, que fazem parte do dia-a-dia na audição da juventude e mesmo nós os mais velhos. Temos os nossos meios de comunicação em todos os sentidos. O zouk chegou a Angola de uma forma intempestiva, impôs-se e os valores da cultura nacional estão relegados para terceiro, quarto ou quinto plano. Nem sequer a nossa juventude conhece que valores culturais, géneros musicais e danças temos como valor da nossa idiossincrasia cultural.
Disse há alguns anos que a nossa música não deveria ser para programas específicos, porque é uma música de identificação. Mantem a mesma opinião?
Eu acho que sim, mantenho a mesma opinião. Angola é o único país onde há universalidade de transmissão de valores. Estive durante muitos anos no Brasil e nunca ouvi uma rádio a tocar música angolana. Entretanto, temos relações privilegiadas, em todos os sentidos, com o Brasil. Até somos de certa forma os padrões de referência da música brasileira em termos de cultura. É só ver que a maioria dos escravos que foram para o Brasil foram angolanos que saíram da região kikongo e kimbundu, sem desprimor para outras regiões do nosso país. Mas lá não se ouve. Em nenhum Estado ouvi, nem no Estado da Baía. Ouvi palavras como nzambi, tata, ngana. Mas música na rádio, programas ou documentários na televisão! Não. E eles têm muitas rádios e televisões em todos os Estados, mas não ouvi. No Congo, que está aqui próximo, na nossa fronteira, não costuma tocar música angolana. O único país que parece que tem a mesma doença, talvez seja génese do colonialismo, que também parece não ter perdido, é Moçambique. Nem Cabo Verde ou São Tomé. Tirando os festivais que se realizam algumas vezes em Cabo Verde, a influência da música angolana lá não se faz sentir. Em Portugal temos centros localizados onde se faz música angolana. Aqueles antigos, como os centros recreativos onde o pai do Paulo Flores fazia a promoção da sua discoteca, acabaram. Hoje tem apenas um centro que é referência dos caboverdianos, onde às vezes aparecem o Paulo Flores e o Bonga, mas não aparecem todos os músicos como se faz passar aqui. Aqui em Angola dá-se mais credibilidade ao Zouk, R&B, Hip Hop, Jazz, numa amálgama de géneros, como se, de facto, fôssemos tão poliglotas assim do ponto de vista dos géneros musicais.
Escuta e dança kuduro?
Se for em termos de brincadeira, como os meus netinhos, posso dançar. Como as peças de teatro em casa. Mas não é a minha predileção, porque eu preferia que eles aprendessem o Semba, Kilapanga, Cabetula, Jimba e uma série de ritmos que nós temos, que se estão a perder por falta de dinamização e interesse cultural. É para dizer que estamos do ponto de vista da cultura que nem sequer os pressupostos para a nossa identidade, para a nossa valorização, temos padronizados. Somos o único povo que não tem padrão. Não está escrito. Agora só falamos do património cultural da humanidade porque inserimos Mbanza Kongo no património mundial.
Mas aqui nem sequer as palavras kimbundu, kikongo estão padronizadas. Estamos com problemas agora de conhecimento, leitura. Antigamente se fazia a leitura em língua ou escrita bantu, hoje já mudamos a ortografia e convencionamos também uma nova forma de estar. Então há confusão entre a escrita anterior e a moderna. Eu tenho uns trabalhos que agora vou encaminhar para o Instituto de Línguas para que eles modelem, porque tenho uma escrita que é anterior à moderna.
Em 2017 venceu o Prémio Nacional de Cultura e Artes no domínio da música...
Não venci. Aquilo é uma outorga que o Governo de Angola faz ao merecedor desta distinção em cada ano.
Gostou do reconhecimento naquela altura ou pensa que chegou tarde, tendo em conta a discografia que possui?
O prémio é sempre um estímulo bem-vindo, porque acaba por ser um reconhecimento à nossa contribuição à construção musical do país. Penso que o prémio de uma forma geral deveria ser uma atribuição de valor, de mérito e de consciência, não só patriótica como governamental, institucional.
Hoje, o que mais realça a acção cultural da nossa juventude são os elementos estranhos à nossa cultura, que fazem parte do dia-adia na audição da juventude e mesmo nós os mais velhos
‘Hoje em Angola para gravar um disco tem de bajular, pedinchar ou desconsiderar-se’
É possível desconstruir o que pretende transmitir?
Penso que um prémio à dimensão do Prémio Nacional da Cultura e Artes não pode ser um prémio sem mérito. Porque tirando o papel que a gente recebe, o programa, o diploma, a fotografia e uma pequena estatueta simbólica, o prémio não tem mais nada.
Hoje entrega-se mais de 3 milhões de kwanzas. Sabe disso?
Acho que o Prémio Nacional da Cultura e Artes, pela sua eminência espiritual deveria ter o mesmo valor que o prémio da ciência, da matemática, química, etc, porque mundialmente se valoriza. Aqui o prémio é dado após o trabalho de selecção e avaliação por uma comissão sem mérito.
A comissão que atribiu o prémio não tem qualquer mérito?
Sim.
As pessoas colocadas não estão abalizadas para efectuar as avaliações?
Acho que as pessoas são colocadas mais pelo sentimento paternalista da instituição do que o reconhecimento de pessoas de valor para reconhecer um prémio tão alto como é o Prémio Nacional de Cultura e Artes. Por outro lado, o Prémio Nacional de Cultura e Artes, depois de atribuído, aquele recebimento do diploma e outras coisas, não tem mais nenhum valor. Depois sais daí, pões o material recebido num canto e esqueces. Não tem mais nada para lhe fazer lembrar a tempo inteiro. As próprias instituições que atribuem o Prémio Nacional de Cultura e Artes, passado meio mês, já nem se lembram de que o Lamartine recebeu o Prémio Nacional de Cultura e Artes na área da música. Tanto mais que realizam actos simbólicos ou não, mas não se reconhece os que receberam o Prémio Nacional de Cultura e Artes. Nunca mais estas pessoas são sequer lembradas como Prémio Nacional de Cultura e Artes. Vocês são jornalistas, alguma vez mais ouviram falar em Prémio Nacional de Cultura e Artes Carlos Lamartine? Estão à espera de Novembro para verem quem é o próximo prémio. A forma de atribuição do prémio deve ser melhor estudada, assim como a avaliação, selecção, porque deve ter valor. O Prémio Nacional da Cultura e Artes deve ser o atributo mais valioso do ponto de vista cultural com que o país se pode representar no domínio da cultura. É a minha opinião.
Fala em paternalismos: há um mês houve uma polémica envolvendo o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato, classificando o músico Eddy Tussa como o ‘príncipe do Semba’. O que achou?
Penso que o Eddy Tussa é um grande músico. Pelo menos é um grande intérprete. É um artista que tem muito valor e mérito, mas acredito que o exercício feito de atribuição do título ‘príncipe do Semba’ foi uma espontaneidade de quem lá esteve a atribuir o título. Não tem respaldo nem científico nem cultural. Foi uma questão de espontaneidade, porque não é. Na cultura nacional não há títulos. As atribuições destes títulos de carácter espiritual devem passar pelo reconhecimento das figuras representativas da ancestralidade. Acho que outorgar o título de rei a um cantor ou desportista passa muito pela relação com as forças sobrenaturais da cultura.
Mas temos o rei Elias Dya Kimuezu…
Elias Dya Kimuezu foi feito rei no tempo colonial. Mas foi feito do ponto de vista material, porque o Rui Montez quando o levou a Portugal, porque o Elias representava naquela altura a máxima expressão dos cantores angolanos, que eram poucos, uma vez que até em 1963 dificilmente havia artistas a angolanos a cantar em línguas nacionais. Acho que a primeira figura nacional que se evidenciou a cantar na língua kimbundu foi Sofia Rosa, porque estava integrado no grupo cultural ‘Ngongo’. Em 1963, aparece o Luís Visconde que não tem nenhuma música em kimbundu, mas representou, de facto, a faixa de artistas daquele período. Depois apareceu em 1967 o Elias Dya Kimuezu com a faixa ‘Zom...zom...zom...zom’. Na altura, o empresário Luís Montez, que trabalhava com o CITA, então decidiu colocar o Elias Dya Kimuezu para amostra no interesse dos visitantes angolanos e visitantes a Angola. A figura expressiva de um cantor kimbundu. Foi só por esta razão. Então, esta mensagem do Luís Montez se fixou porque, na altura, reconhecíamos que o Elias Dya Kimuezu era de facto a máxima expressão de representatividade de música angolana. Mas o Estado não tem nada padronizado. Se não tem, então não pode fazer atribuição de títulos. O próprio Semba que estamos aqui a falar, também não sabemos se o que o Elias cantou é Semba ou Kilapanga, embora seja um cantor versátil e todos os géneros lhe fazem fé.
O que falta para se padronizar o Semba?
Eu acho que ainda não entendemos o que é cultura nacional, porque se conseguissemos seguir os exemplos de Cabo Verde, Cuba, Brasil saberíamos o que é padronizar os valores ou os símbolos da cultura nacional. Temos padronizada a bandeira, o hino e os símbolos da República. Não padronizamos os valores culturais porquê? Comer também é um acto de cultura. Os kuanhamas comem de forma diferente de nós em Luanda, os khoisan têm uma forma muito própria de se alimentarem. A gente não conhece… E são valores que se transmitem de geração em geração. Se nós que estamos aqui não aprendemos, vocês da vossa geração não vão aprender e aqueles que virão depois de vocês pior ainda: vão encontrar um país desintegrado do ponto de vista cultural.
David Mestre dizia, em relação à escrita, que nem tudo é poesia. Hoje, ao que tudo indica, nem tudo o que se canta é Semba?
Depende muito da aplicação deste conceito: nem tudo é poesia, nem tudo é canto… Não sou muito desta valorização. Penso que tudo o que se faz, independentemente da sua positividade ou negatividade, é um acto de construção do homem, do ser humano. Por isso, existem as palavras bom e mau, bem e mal, sim e não. Se nos fixarmos na perfeição da execução de uma matéria, vamos considerar que esta acção é uma questão de arte. Em Angola, temos uma diversidade de géneros musicais. Como não estamos a padronizar as vertentes que assentam na base da nossa cultura ancestral, temos dificuldades de identificar que género musical, ritmo ou canto estamos a fazer. Por isso, temos dúvidas. Eu tenho o conhecimento do que seja o Semba, Jimba, Kilapanga, Tshisoso, ou de uma série de géneros, estilos, ritmos angolanos porque convivi e convivo com eles no dia-a-dia, nos meus trabalhos e na acção cultural que vou perseguindo. Onde há um canto procuro ver qual é o estilo de dança, de canto e musical que se está a fazer. E sei comparar. Mas não é necessário que seja eu, mas sim o povo todo a saber. Penso que tudo o que se faz é canto, é poesia, é arte, independentemente do nível, do número dos aceitantes de cada um destes estilos.
Em Maio, assistiu-se, por parte do Executivo, o reconhecimento pelas mortes de David Zé, Urbano de Castro e Artur Nunes. Como músico de intervenção que é: era pesado ser um músico de intervenção naquele período que culminou com os acontecimentos de 27 de Maio?
Primeiro, como não ouvimos diariamente as nossas músicas nos meios de comunicação social, quer na rádio quer na televisão, independentemente do conjunto de meios que hoje temos, o nosso povo fica com a percepção de que os únicos que cantaram a revolução foram David Zé, Urbano de Castro e Artur Nunes. Por isso foram mortos. Não é verdade. Na altura da independência tivemos mais de duas centenas de cantores dentro de Angola que fizeram música revolucionária. Muitos dos que fizeram música revolucionária estão hoje no anonimato. Passaram para o esquecimento porque as suas músicas não se ouvem. Na altura, estas eram as músicas de construção da mentalidade e da consciência do povo angolano para a luta de libertação. Hoje convencionou-se, de facto, que estas músicas servem para deturpar a mente. Não é verdade, porque os seus conteúdos se aplicam na formatação das novas consciências. Precisamos de facto de um povo adulto, culto, uma juventude dinâmica a partir das luzes que lhes sejam transmitidas de geração em geração. Isso tem de partir dos bons exemplos. Porquê fizemos aquelas músicas no tempo colonial e outras no período pós-independência? Foi para consolidar as conquistas que tínhamos alcançado, iriamos ou vamos alcançar. Agora, o desconhecimento dá esta deturpação que temos hoje.
Morreram muitos músicos naquela altura?
Morreram. Não foi só o David Zé… Acho que o Zé da Honda morreu neste conflito, o Sofia Rosa também. Não estou a falar concretamente do 27 de Maio, mas sim do período em que se deu o pré e pós independência.
Pode dimensionar o prejuízo que estes momentos pré e pós-independência causaram para a cultura, particularmente para música angolana?
Se partirmos do princípio de que somos seres humanos e a nossa contribuição é valiosa, a perda física e prematura de todos os nossos colegas da música, da dança e do canto, independentemente da forma diversa em que tenham partido, é sempre desgostoso. É sempre com uma consideração de repulsa, porque morrer não é bom. Ninguém gosta, embora seja uma verdade inquestionável. Agora, penso que os homens passam, mas ficam as obras. São elas que determinam de certa forma a continuidade e a preservação da cultura nacional.
O perdão solicitado pelo Presidente João Lourenço veio no momento certo?
Penso que a acção do perdão levado a cabo pelo Governo angolano, nos últimos dias, após um aturado trabalho de convencimento, esclarecimento e organização, é um acto de um alto simbolismo nacional, que deve de facto contribuir para se perpetuar o espírito de paz que se deve estabelecer no país. A vida é isso mesmo: uns vão, outros ficam. Os que foram devem ser lembrados permanentemente pelas suas gratas actuações, os que ficam devem continuar o trabalho daqueles que foram, por forma que se preservem os valores intrínsecos da cultura nacional. O perdão é de um alto valor que não deve ser minimizado. Pelo contrário, o trabalho que se tem de fazer hoje, de forma a dar continuidade a esse pressuposto que o Estado encontrou, para valorizar a relação inter-urbana no seio da Nação angolana, deve continuar com a acção prática dos meios de comunicação em todos os sentidos. Não só como ouvir as músicas do David Zé, Urbano, Jacinto Lima, Sofia Rosa, Zé da Honda, Mila Melo, da Tchinina, como devemos lembrar também das canções que são de cultura. Dos artistas como Santocas, Carlos Lamartine, Mário Gama, Manuel Faria e vários outros. Somos muitos. Alguns foram de facto, mas outros estão vivos e precisam de ser reconhecidos pela sua população. É triste quando vamos a uma escola de gente culta, uma universidade, mas os estudantes não conhecem os artistas angolanos. Mas conhecem o Roberto Carlos, Júlio Iglesias e companhia limitada, Djavan, etc. É um erro de carácter patriótico.
Para um músico da dimensão do Carlos Lamartine, é fácil compor músicas de intervenção?
Como disse, há bocado, as minhas músicas são actuais. Cada vez que ouço uma música reflito-a e penso que ela pode ser ouvida, dançada e seleccionada até para participar em eventos, porque elas são actuais. O que construo hoje tem a ver com a minha espiritualidade do momento. Sempre compus neste sentido. O que estou a ver hoje dá para compor. As formas como a gente acaba por expressar estas nossas composições é que são cada vez mais controversas, porque se ontem tínhamos disponibilidade para gravar a qualquer momento, uma vez que tínhamos editoras, gravadoras que convidavam o artista angolano para gravar, eles recompensavam este esforço e editavam os discos que saíamparaomercado.Eramvendidos e tudo se fazia com normalidade. Hoje em Angola para gravar um disco tem de bajular, pedinchar ou desconsiderar-se.
Há bajulação e desconsideração a nível dos músicos?
Se você não tem dinheiro, o que vais fazer? Vai mendigar. Como hoje a situação converge para uma dificuldade aparente mais visível, não tem como, senão estar aí a bater palmas e etc.. Às vezes mesmo sem querer.
Disse ainda do momento que os músicos da nova geração apenas são alimentados espiritualmente. É verdade?
É assim: nós não temos áreas ou espaços de representação da cultura nacional, por isso é que não há espectáculos, não há acção em todas as áreas, como música, teatro ou dança. A Liga Africana nos anos 58 e 60, era uma casa de cultura, todos os dias havia sessões como palestras, representações teatrais, danças, feiras. Hoje não tem nada. Não só a juventude, como até mesmo nós os adultos. Estamos sem consumir toda aquela nossa contribuição que poderia valer para nos distrairmos, ter o nosso espírito mais enriquecido e melhor estabilizados do ponto de vista da sociabilização. Hoje o consumo do ponto de vista da nossa cultura é irrisório, às vezes até muito esquemático. OPAIS